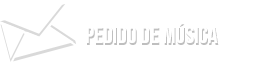
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
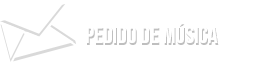
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Produções cinematográficas, principalmente entre as décadas de 1960 e 1970, reforçam afirmação de Cacá Diegues. Confira filmes inspirados no movimento de 1922

Cinema e literatura coexistiam, mas não se alinhavam à época do impacto da Semana de Arte Moderna. Na remoção do ranço acadêmico, o cinema estava com o potencial ainda em análise. Paradigma eficiente para a velocidade, o dinamismo na associação de conteúdo e o apelo da síntese, o cinema era admirado pela técnica. Mas com filmes de curta duração e agrupados em ciclos, a sétima arte ainda não compunha massa sólida. Coube ao crítico José Carlos Avellar a observação de que “a literatura dos modernistas partiu da ideia do cinema”.
Mário de Andrade, mesmo em 1924, admitiu o impulso por um romance “cinematográfico”, ao determinar a escrita de “Amar, verbo intransitivo”. Apregoando a originalidade – e distanciando a arte de “fotografia colorida”, como destaca Ismail Xavier em “Sétima arte: Um culto moderno” –, foi Mário quem abordou o cinema como teórico da arte moderna e, na revista paulistana Klaxon, cunhou: “A cinematografia é a criação artística mais representativa da nossa época”.
Foi num cenário em que modernistas de diferentes fases já haviam morrido, casos de Mário de Andrade (que viveu até 1954), Graciliano Ramos (vivo até 1953, mesmo ano da morte de Jorge de Lima), Pagú (a primeira mulher presa na luta revolucionária, e morta em 1962), José Lins do Rego (1901-1957) e Oswald de Andrade (1890-1954), que o cinema encampou a polifonia dos modernistas.
Veterano saudado pelo alcance de fitas que criou como “Quando o carnaval chegar” (1972) e “Joanna francesa” (1973), Cacá Diegues assinala à reportagem: “Estive sempre ligado ao Modernismo para fazer filmes como ‘Orfeu’ e ‘O grande circo místico’, além de outros. O Modernismo é a fonte de criação que alimentou o Cinema Novo. Fazer filmes originais, únicos no mundo, e ao mesmo tempo voltados à descoberta e formação da civilização brasileira, esse é o projeto do Cinema Novo e seria o do Modernismo se eles se encontrassem historicamente”.

Protagonizado por Grande Otelo, ”Macunaíma”, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, é inspirado na obra homônima de Mário de Andrade(foto: Reprodução)
Cacá elenca a série de filmes modernistas consagrados “que tinham, no audiovisual, o mesmo projeto do Modernismo literário”: “Rio 40 graus”, “Deus e o diabo na terra do sol” e “Brasil ano 2000” (Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim para Walter Lima Jr.), além de “Macunaíma”, filme de 1969, que traz a súmula do descansado anti-herói, imerso numa indefinida cultura alheia, e que se volta às próprias raízes (indígenas), quando tudo já parece tarde. Mário de Andrade – que, diante da sétima arte, demarcou que era “preciso compreender os norte-americanos e não macaqueá-los” – reacende paixões, com o sucesso popular do filme de Joaquim Pedro de Andrade, capaz de acentuar o quê grotesco e desorganizado compreendido na obra de 1928. Vista, no livro “A odisseia do cinema brasileiro”, como somatório de chanchada e tropicalismo, a saga do amazônico corporifica um positivo derivado do “Manifesto antropofágico” (capitaneado por Oswald de Andrade).
Empreender “processos comunicativos e desalienantes” era das responsabilidades assumidas por Joaquim Pedro. Quem bem teorizou, no livro “Revolução do cinema novo”, a resultante entre a “ascensão do subdesenvolvimento” e cadeias antropofágicas, alimentadas por liberdade e tropicalismo, foi Glauber Rocha. O cineasta baiano lembra a competência do colega Gustavo Dahl, na afirmação de que “o Cinema Novo se obrigava a superar qualitativamente o subdesenvolvimento cultural”, numa tarefa similar aos intelectuais de 1922. Segundo Glauber percebe: “O surrealismo para os povos latino-americanos é o tropicalismo”. Coube ao teórico Jean-Claude Bernardet assinalar que a homenagem rendida pela Bienal de São Paulo (em 1961) para o cinema brasileiro “teve para o Cinema Novo a importância da Semana de Arte”.

Neto de Oswald de Andrade, Ruda K. Andrade diz que ”Modernismo” deixou como legado uma maneira de se olhar o país, de buscar raízes(foto: Reprodução)
Com direção musical de Rogério Duprat, expoente tropicalista, e crivado de elementos alegóricos, “Brasil ano 2000” tratava do extermínio de índios – em manifestos, sempre saudado como o “verdadeiro brasileiro”. Na chamada fase “canibal-tropicalista”, despontaram produções de cunho radical, a exemplo de “Os deuses e os mortos” (1970), de Ruy Guerra, em torno da saga de um homem disposto a interferir no domínio de coronéis baianos. A ingerência portuguesa nos deserdados brasileiros do período colonial avança pelos painéis de “Pindorama” (1970), criação de Arnaldo Jabor, e no mundo de traições, falsas identidades, escambo e canibalismo revelado por Nelson Pereira dos Santos em “Como era gostoso o meu francês” (1971). Um dos luxos da fita está na lida do pioneiro do cinema Humberto Mauro, que criou diálogos em tupi-guarani.
Sob os efeitos de interminável produção, e em torno do relato da decadência capitalista (mote para peça de Oswald de Andrade), “O rei da vela” (1982) eclodiu na tela, comandado por José Celso Martinez Corrêa e artistas de seu Teatro Oficina. Atentando para o enlace de outros diretores do episódico longa “Oswaldianas” (1992), entre os quais Rogério Sganzerla e Júlio Bressane, com ideais modernistas, o cineasta Roberto Moreira, que assina o episódio “A princesa radar”, reforçam a procura, na obra, da atualização à aludida ideia oswaldiana da antropofagia. “Tentei fazer um filme sincrético, capaz de abranger as várias referências do ballet original”, comenta.
Mulherengo, anárquico e inquieto, Oswald teve representação, no filme de Joaquim Pedro de Andrade, “O homem do pau-brasil” (1981), estrelado por Ítala Nandi, Flávio Galvão e Dora Pellegrino, e premiado como o melhor do 15º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Saído da pena de Oswald, “Os condenados” (1973), de Zelito Viana, que estampa a queda de Alma (Isabel Ribeiro) na prostituição, foi outro título celebrado pelo cinema de temática modernista.
Estive sempre ligado ao Modernismo para fazer filmes como ‘Orfeu’ e ‘O grande circo místico’, além de outros. O Modernismo é a fonte de criação que alimentou o Cinema Novo
Cacá Diegues, cineasta
Noutra incursão da mesma linha, Zelito Viana trouxe para as telas, com elenco liderado por Tânia Alves e José Dumont, o musical “Morte e vida Severina” (1977), detido nas andanças de um retirante por regiões pernambucanas e que brotaram da poesia de João Cabral de Melo Neto. Também do Nordeste, o representante da segunda geração modernista, Graciliano Ramos, escreveu as obras que motivaram Leon Hirszman (“S. Bernardo”) e Nelson Pereira dos Santos (“Memórias do cárcere”, premiado pela crítica do Festival de Cannes, e “Vidas secas”, que, na análise de Júlio Bressane, indicou antropofagia entre neorrealismo e a nouvelle vague) a investir em figuras históricas que imprimiam a trajetória de classes sociais (oprimidas ou opressoras).
Afirmação de identidade e vanguarda renderam obras literárias dos colegas de Vinicius de Moraes – também representante da segunda geração (a de 1930) – que justo teve a carreira iniciada como crítico de cinema. Do caráter revolucionário e da postura crítica, que marcaram “Barravento” (1962), Glauber Rocha apostou na produção de “Menino de engenho” (1966), no qual o estreante Walter Lima Jr. trouxe para as telas a adaptação de obra do modernista José Lins do Rego. Tudo em torno da modernização de uma era, a exemplo da trama de “Soledade – A bagaceira” (1976), de Paulo Thiago, que foi apoiado na prosa regionalista de José Américo de Almeida. Motes de libertação vieram com outras obras de cinema: “Histórias para se ouvir à noite”, escrito por Guilherme Figueiredo, deu gás para “Fome de amor” (1967), enquanto Eduardo Escorel respondeu por “Lição de amor” (1975) e “A hora e a vez de Augusto Matraga” (1965) alinhou o conto do pós-modernista João Guimarães Rosa à música de Geraldo Vandré.
ENTREVISTA
Rudá K. Andrade
Historiador
Que relação entre cinema e literatura se confirma na perspectiva modernista?
A literatura é muito mais antiga, claro. Mas o cinema, no final do século 19, vem numa esteira de novidades tecnológicas. Podemos citar transformações como a fotografia, que vai libertar os artistas da necessidade de um registro fidedigno e natural, e impulso para novas linguagens como o impressionismo e expressionismo. Houve a invenção do microscópio que vai abrir a visão para mundo invisível. Ainda teve a reforma urbanística, com ampliação de avenidas e o olhar da vigilância dos cidadãos. Em Paris, também se encontrarão uma série de lojas, com vitrines e os cafés repletos de espelhos. Tudo forma a revolução do olhar que vai orientar para uma primazia da imagem, e o cinema vem colaborar com essa revolução.
Como se deu o diálogo entre letras e imagens?
Uma linguagem (a do cinema e a da literatura) vai aprendendo, ampliando e trocando com a outra. O cinema vai alimentar muito a questão da imagem, da imagem no texto, com correntes literárias modernas, tipo o futurismo. Haverá a levada do texto para um sentido sinestésico, tentando dar conta de todas as sensações humanas, não só do olhar. O texto tentará trazer odores, sensações, texturas, cores e sentimentos outros. A ideia do cubismo estará ligada aos fragmentos, aos pedaços, e isso vai ser muito absorvido pela literatura modernista. A literatura será afetada, no sentido de buscar registro mais ágil. A poesia passará a esta fragmentação. Romances como “Serafim Ponte Grande” e “Memórias sentimentais de João Miramar”, do meu avô (Oswald de Andrade), mostram essa dinâmica. Não se permite mais ao homem moderno ficar preso na biblioteca. Há a aposta em textos fluidos; os modernistas vão publicar edições de livros menores, à la pocket books. As pessoas precisarão ler no bonde, na fila do mercado. A vida está nas ruas, e a literatura vai para esse lado. No recorta e cola, que aproxima muito a expressão do cinema com a da literatura, o corte e a sequência são apontados, por ligação, pelo Antonio Candido, quando fala do Oswald. O Haroldo de Campos também pontua isso: da técnica de montagem dos fragmentos. O Modernismo deixou como legado uma maneira de se olhar o país, de buscar suas raízes, de encontrar a realidade dos brasis. Do olhar sobre o sertão, o olhar sobre o subúrbio e, nesse sentido, se vai a um lugar, no cinema, que joga luz no realismo italiano. Se passa a trazer as questões para rua, para fora, com luz externa.
Qual a proposta essencial ao se rever a linguagem modernista?
Na celebração, penso no quesito experimental da pesquisa de linguagem dos modernistas: isso é fundamental para a gente continuar criando e dialogando, buscando novas formas de entendimento do mundo. O Cinema Novo foi uma continuação desses experimentos, dessas reflexões críticas. Pensando, antropofagicamente, temos que deglutir esse passado, essa história, mastigá-la, e saber retirar aprendizados e as forças, as potências, que nos ajudam a lidar com o nosso hoje. Acho que essa substância que podemos retirar da experiência modernista é a busca de linguagem, de reflexões sobre o Brasil. O mais importante, que retumba até hoje e que retumbou no Cinema Novo, são as grandes perguntas: Quem somos? Que país é esse? Que brasis são esses?